Charles François Jalabert, Virgílio, Horácio e Vário, na casa de Mecenas
3 de junho de 2018
https://www.revistaprosaversoearte.com/o-famoso-poema-carpe-diem-do-poeta-romano-horacio/
“Carpe diem”
Por Antônio
Cícero*
Um dos poemas mais famosos do poeta romano Horácio é a ode 1.11.
Nela, dirigindo-se a uma personagem feminina, Leucônoe, o poeta lhe diz que não
procure adivinhar o futuro:
Não
interrogues, não é lícito saber a mim ou a ti
que fim os deuses darão, Leucônoe. Nem tentes
os cálculos babilônicos. Antes aceitar o que
for,
quer muitos invernos nos conceda Júpiter,
quer este último
apenas, que ora despedaça o mar Tirreno
contra as pedras
vulcânicas. Sábia, decanta os vinhos, e para
um breve espaço de tempo
poda a esperança longa. Enquanto conversamos
terá fugido despeitada
a hora: colhe o dia, minimamente crédula no
porvir.
[Tu ne
quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi
finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios
temptaris numeros. ut melius, quidquid erit,
pati.
seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter
ultimam,
quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare
Tyrrhenum: sapias, vina liques, et spatio
brevi
spem longam reseces. dum loquimur, fugerit
invida
aetas: carpe diem quam minimum credula
postero.]
A frase “carpe diem” tornou-se um aforismo
epicurista e um tema poético a que inúmeros poetas recorrem. No Brasil, por
exemplo, Gregório de
Matos, imitando um famoso poema de Góngora, diz, em soneto dedicado a
uma “discreta e formosíssima Maria“:
Discreta e formosíssima Maria,
Enquanto estamos vendo a qualquer hora
Em tuas faces a rosada Aurora,
Em teus olhos e boca o Sol, e o Dia:
Enquanto com gentil descortesia
O ar, que fresco Adônis te namora,
Te espalha a rica trança voadora,
Quando vem passear-te pela fria:
Goza, goza da flor da mocidade,
Que o tempo trata a toda ligeireza
E imprime em toda flor sua pisada.
Ó não aguardes que a madura idade
Te converta essa flor, essa beleza,
Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada.
O soneto
mencionado de Góngora,
uma obra-prima, é o seguinte:
Mientras por competir con tu cabello,
oro bruñido al sol relumbra en vano;
mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente el lilio bello;
mientras a cada labio, por cogello,
siguen más ojos que al clavel temprano;
y mientras triunfa con desdén lozano
del luciente cristal tu gentil cuello;
goza cuello, cabello, labio y frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada
oro, lilio, clavel, cristal luciente,
no sólo en plata o viola troncada
se vuelva, mas tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.
O poeta Mário
Faustino escreveu o seguinte belíssimo soneto chamado “Carpe Diem“:
Que faço deste dia, que me adora?
Pegá-lo pela cauda, antes da hora
Vermelha de furtar-se ao meu festim?
Ou colocá-lo em música, em palavra,
Ou gravá-lo na pedra, que o sol lavra?
Força é guardá-lo em mim, que um dia assim
Tremenda noite deixa se ela ao leito
Da noite precedente o leva, feito
Escravo dessa fêmea a quem fugira
Por mim, por minha voz e minha lira.
(Mas já de sombras vejo que se cobre
Tão surdo ao sonho de ficar — tão nobre.
Já nele a luz da lua — a morte — mora,
De traição foi feito: vai-se embora.)
Mas Horácio,
em outra ode igualmente
famosa, a 3.30, afirma que
suas Odes sobreviverão às milenàrias pirâmides:
Erigi um
monumento mais duradouro que o bronze,
mais alto do que a régia construção das
pirâmides
que nem a voraz chuva, nem o impetuoso Áquilo
nem a inumerável série dos anos,
nem a fuga do tempo poderão destruir.
Nem tudo de mim morrerá, de mim grande parte
escapará a Libitina: jovem para sempre
crescerei
no louvor dos vindouros, enquanto o pontífice
com a tácita virgem subir ao Capitólio.
Dir-se-á de mim, onde o violento Áufido
brama,
onde Dauno pobre em água sobre rústicos
povos reinou,
que de origem humilde me tornei poderoso,
o primeiro a trazer o canto eólio aos metros
itálicos.
Assume o orgulho que o mérito conquistou
e benévola cinge meus cabelos,
Melpómene, com o délfico louro.
[Exegi
monumentum aere perennius
regalique situ pyramidum altius,
quod non imber edax, non aquilo impotens
possit diruere aut innumerabilis
annorum series et fuga temporum.
non omnis moriar multaque pars mei
vitabit Libitinam: usque ego postera
crescam laude recens, dum Capitolium
scandet cum tacita virgine pontifex:
dicar, qua violens obstrepit Aufidus
et qua pauper aquae Daunus agrestium
regnavit populorum, ex humili potens
princeps Aeolium carmen ad Italos
deduxisse modos. sume superbiam
quaesitam meritis et mihi Delphica
lauro cinge volens, Melpomene, comam.]
A própria admiração que a ode continua a
suscitar, parecendo confirmar o vaticínio de Horácio, aumenta essa admiração.
Ou seja, enquanto na ode 1.11 o poeta recomenda
ignorar o futuro, na ode 3.30
ele exalta o futuro dos seus poemas. Que haja uma contradição aqui não é nenhum
problema. Diferentemente dos textos teóricos, os poéticos podem contradizer-se,
ainda que sejam do mesmo autor, sem que, com isso, sofram o menor arranhão.
Se ambos forem bons, então, ao ler o primeiro,
concordamos inteiramente com ele; ao ler o segundo, é com este que concordamos
inteiramente, sem deixar de continuar a concordar com o primeiro. Ambos podem
ser profundamente verdadeiros ou reveladores. Um poema é capaz de contradizer a
si próprio e ser uma obra-prima: ele pode até ter que se contradizer, como o
“Odeio e Amo” (“Odi et amo”), de Catulo, para vir a ser uma obra-prima.
De todo modo, o poeta Haroldo
de Campos escreveu um magnífico poema, intitulado “Horácio
Contra Horácio”, que diz:
ergui mais do que o bronze ou que a pirâmide
ao tempo resistente um monumento
mas gloria-se em vão quem sobre o tempo
elusivo pensou cantar vitória:
não só a estátua de metal corrói-se
também a letra os versos a memória
— quem nunca soube os cantos dos hititas
ou dos etruscos devassou o arcano?
o tempo não se move ou se comove
ao sabor dos humanos vanilóquios —
rosas e vinho — vamos! — celebremos
o instante a ruína a desmemória
Não só, portanto, aos poetas é lícito
contradizerem-se uns aos outros ou a si próprios, tanto em diferentes poemas
quanto no mesmo poema, como tais contradições podem constituir o motivo de um
poema.
Observo, porém, que a ode 1.11 pode também ser
lida de modo que não necessariamente contradiga a ode 3.30. Digamos que a
concepção de poesia subjacente à ode 3.30 seja que, dado que o grande poema
vale por si, ele é, em princípio, indiferente às contingências do tempo. Sendo
assim, não se concebe um tempo em que tal poema venha a caducar.
Logo, mesmo reconhecendo a possibilidade de
que os textos se percam, talvez a verdadeira razão do orgulho de Horácio seja o
fato de que suas odes intrinsecamente merecem existir. Isso quer dizer que elas
merecem existir AGORA.
E merecem existir agora, seja quando for
agora: seja quando for que alguém diga ou pense: “agora”. É desse modo que,
precisamente ao celebrar “o instante a
ruína a desmemória”, o poema se faz eterno agora. Nesse sentido,
apreciá-lo é colher o dia: “carpere
diem”.
*Artigo do poeta Antônio Cicero foi originalmente
publicado 6 de fevereiro de 2010, na coluna do autora na “Ilustrada”, da Folha
de São Paulo. Está disponível no blog
Acontecimentos.
Poeta
romano Horácio
Quinto Horácio Flaco (latim:
Quintus Horatius Flaccus – 65 a.C.-8 a.C.). Poeta lírico, satírico e filósofo
latino. Horácio nasceu em Venúsia, Itália, no ano 65 a. C. Filho de um escravo
liberto que exercia a função de cobrador de impostos, fez seus estudos em Roma
onde foi aluno de Lucio Orbílio Pupilo. Aperfeiçoou seus estudos literários em
Atenas.
Estabeleceu-se em Roma como escriba de
questores. Foi amigo do poeta Virgílio,
que o apresentou a Caio Mecenas que
o levou para integrar os círculos literários, tornando-se o primeiro literato
profissional romano. Cultivou diversos gêneros literários principalmente a ode,
em que utilizou os moldes gregos. Procurou sempre imprimir um cunho nacional às
suas produções.
Seu primeiro livro conhecido foi “Sátiras” (35
a.C.). Sua obra prima, são os três livros de poemas líricos, “Odes” (23 a.C.),
complementados por um quarto volume escrito em 13 a.C. Gozou de grande
prestígio junto ao imperador Augusto e para ele compôs “Carmem Saeculare” (20
a.C.), um hino epistolar de caráter litúrgico dedicado a Apolo e Diana. Sua
poesia escrita em forma de sentença teve muitas delas transformadas em
provérbios. Faleceu em Roma, Itália, no ano 8 a.C.
MAIS ODES DE HORÁCIO
Giacomo Di Chirico, Quintus Horatius Flaccus (65 a.C. – 8 a.C.)
ODE II, 16
logo que nuvem atra esconde a lua
e estrela alguma arde no céu, aos deuses
pede descanso;
descanso pede a furibunda Trácia,
pede-o o meda de aljavas enfeitado,
Grosfo, porque, com gemas e ouro, nunca
podem comprá-lo.
Pois o ouro e o consular litor não tiram
as agitações míseras do espírito
e os cuidados que os tetos sobrevoam,
ricos de ornatos.
Vive com pouco e bem aquele a quem
pátrio saleiro esplende à mesa simples
e não lhe rouba o sono, o medo e a inveja,
sórdido vício.
Por que, assim, tanto, intrépidos, visamos,
se a vida é breve? Buscar outra terra,
sob outro sol? Mas quem, fugindo a pátria,
foge a si mesmo?
Navios de bronze o mórbido cuidado
escala; equestre esquadrões persegue,
mais rápido que o cervo, mais veloz
que Euro soprando.
Alegre no presente, que a alma odeie
os cuidados futuros, e a amargura,
adoce-a, a rir: felicidade inteira,
essa não há.
Morte precoce arrebatou Aquiles,
longa velhice consumiu Titono,
talvez o fado me conceda aquilo
que te negou.
Cercam-te cem rebanhos a mugir
de vacas sículas, relincha-te a égua,
a quadriga apta, lãs três vezes tinta
de áfrico múrice
para o teu uso tens; a mim, me deu
pequeno campo, o sopro das camenas
gregas e o dom de desprezar o vulgo,
Parca veraz.
Tradução de Bento Prado de Almeida Ferraz.
Fonte: FERRAZ, Bento Prado de Almeida; PRADO, Anna Lia Amaral de Almeida (org.) Horácio: Odes e Epodos, SP: Martins Fontes, 2003.
Tradução de Paulo Manoel Ramos Pereira
(Curadoria de Luís Araújo Pereira)
Ode I, 23
Vitas hinnuleo me similis, Chloë,
quaerenti pavidam montibus aviis
matrem non sine vano
aurarum et silüae metu.
Nam seu mobilibus veris inhorruit
adventus foliis seu virides rubum
dimovere lacertae,
et corde et genibus tremit.
Atqui non ego te tigris ut aspera
gaetulusve leo frangere persequor:
tandem desine matrem
tempestiva sequi viro.
Ode I, 23
A mim evitas como um cervo, Cloe,
que procura assustado sua mãe
nas montanhas, não sem medo
vão da mata e da ventania.
Se é chegada a Primavera num
arroubo, ou remexem as folhas verdes
lagartos, teu coração
e joelhos logo se tremem.
Mas atrás de ti não vou como bruto
tigre ou o leão getúlico, mortal:
desiste de ir para a mãe,
é já tempo de achar um homem.
***
Ode II, 20
Non usitata nec tenui ferar
penna biformis per liquidum aethera
uates neque in terris morabor
longius inuidiaque maior
urbis relinquam. Non ego pauperum
sanguis parentum, non ego quem uocas,
dilecte Maecenas, obibo
nec Stygia cohibebor unda.
Iam iam residunt cruribus asperae
pelles et album mutor in alitem
superne nascunturque leues
per digitos umerosque plumae.
Iam Daedaleo ocior Icaro
uisam gementis litora Bosphori
Syrtisque Gaetulas canorus
ales Hyperboreosque campos.
Me Colchus et qui dissimulat metum
Marsae cohortis Dacus et ultimi
noscent Geloni, me peritus
discet Hiber Rhodanique potor.
Absint inani funere neniae
luctusque turpes et querimoniae;
conpesce clamorem ac sepulcri
mitte superuacuos honores.
Ode II, 20
Não serão comuns nem frágeis as asas
que a mim, poeta biforme, alçarão
ao etéreo céu, e mais em
terra não demorarei: maior
que a inveja, as cidades deixo. De pobres
o filho, eu, por quem clamas, eu, querido
Mecenas, não morro, nem as
ondas do Estige impedir-me-ão.
Agora mesmo enrugar sinto a pele
das pernas, em branco e celestial
pássaro torno-me; e leves
penas nos ombros e dedos crescem.
Agora, ágil quanto o Ícaro dedáleo,
visito a costa do choroso Bósforo,
as Sirtes e as mais hiperbóreas
campinas, eu, tal ave cantante.
Conhecer-me-ão Colco e Daco, que
o medo esconde da coorte marsa,
e os distantes Gelonos; bem
me estudarão tanto Ibéria e Ródano.
Não haja, em meu esvaziado funeral,
tristes cantos e vergonhosos prantos;
reprime os lamentos ̶ à tumba
envia as supérfluas honrarias.
***
Mulheres da Roma antiga, em reunião social
Ode III, 9
Donec gratus eram tibi
nec quisquam potior brachia candidae
cervici juvenis dabat,
persarum vigui rege beatior.
Donec non alia magis
arsisti neque erat Lydia post Chloën,
multi Lydia nominis
romana vigui clarior Ilia.
Me nunc Thressa Chloë regit
dulces docta modos et citharae sciens,
pro qua non metuam mori
si parcent animae fata superstiti.
Me torret face mutua
Thurini Calais filius Ornyti,
pro quo bis patiar mori
si parcent puero fata superstiti.
Quid si prisca redit Venus
diductosque jugo cogit aëneo,
si flava excutitur Chloë
rejectaeque patet janua Lydiae?
Quamquam sidere pulchrior
ille est, tu levior cortice et improbo
iracundior Hadria,
tecum vivere amem, tecum obeam ibens.
Ode III, 9
̶ Enquanto fui-te encantador,
jovem algum, preferido, os braços pousava
em torno do teu pescoço cândido;
mais afortunado que o rei da Pérsia fui.
̶ Enquanto por outra não ardias,
e Lídia não era pela Cloe preterida,
um grande nome tive: Lídia,
mais conhecida que a romana Ília fui.
̶ Agora a trácia Cloe rege-me,
tão doce de modos e versada na cítara,
por quem sem medo poderia
eu morrer, se o destino sua alma poupasse.
̶ Queima-me a face tão igualmente
tal Calais, o filho de Órnito de Túrio,
por ele duas vezes morro,
se poupá-lo assim o destino, meu rapaz.
̶ E se o antigo amor nos volta, e
obriga-nos, ora separados, seu jugo?,
e se a loura Cloe partir,
e à Lídia as velhas portas tornam a abrir?
̶ Então, embora belo seja ele,
feito astro, e tu leve como uma cortiça e
bravo como Ádria, contigo
eu viveria bem, e grata morreria.
***
Ode IV, 10
O crudelis adhuc et Veneris muneribus potens,
insperata tuae cum veniet pluma superbiae,
et quae nunc humeris involitant deciderint comae,
nunc et qui color est puniceae flore prior rosae
mutatus Ligurinum in faciem verterit hispidam,
dices heu quotiens te speculo videris alterum:
quae mens est hodie, cur eadem non puero fuit?
vel cur his animis incolumes non redeunt genae?
Ode IV, 10
Ó cruel que grandes dons de Vênus ainda usufrui:
quando de supetão cobrirem o teu orgulho as penas,
e os cabelos que agora pousam nos ombros caírem,
e tua cor, agora mais rosa que a rosa em si,
mudar, Ligurino ̶ calhar-te-á um rosto ríspido ̶ ,
dirás a esse estranho, sempre que no espelho o encarar:
a mente de hoje, por que não a possuí em jovem?, ou
por que a este espírito não tornam aquelas feições?
Horácio, Ode I.8
te deos oro, Sybarin cur properes amando
perdere, cur apricum
oderit Campum, patiens pulueris atque solis,
cur neque militaris
inter aequalis equitet, Gallica nec lupatis
temperet ora frenis.
Cur timet flauum Tiberim tangere? Cur oliuum
sanguine uiperino
cautius uitat neque iam liuida gestat armis
bracchia, saepe disco
saepe trans finem iaculo nobilis expedito?
quid latet, ut marinae
filium dicunt Thetidis sub lacrimosa Troia
funera, ne uirilis
cultus in caedem et Lycias proriperet cateruas?
Ó Lídia, dize, pelos Deuses todos
Te rogo, por que a Sibaris te apressas
perder com teus amores?
Por que aborrece o campo descoberto,
Afeito ao pó e ao sol? por que soldado
Com os iguais não cavalga,
Nem com os dentados freios doma as bocas
Galezas? Por que teme o flavo Tibre
Tocar? E por que cauto
Mais que o vipéreo sangue, o óleo evita?
Nem traz os braços já das armas roxos
Ilustre arremessando
Ora o disco, ora o dardo além da meta?
Por que se encobre como o filho, dizem,
Fez da marinha Tétis,
Perto dos lacrimosos fins de Tróia;
Por que o traje viril o não lançasse
à morte, e às lícias tropas?
(Tradução: Elpino Duriense)
Mulheres de Roma. De onde veio o biquine?
https://formasfixas.blogspot.com/2020/05/odes-14-e-47.html
Odes 1.4 e 4.7.
Há uma história curiosa e tocante, não sei exatamente contada por quem, a respeito do poeta e filólogo A. E. Housman. Certo dia, após analisar a sétima ode do quarto livro de Horácio com doses habituais de brilhantismo, agudeza e sarcasmo (parêntesis, por favor: a quem se inculcar com o porquê da última, basta folhear, ainda que por alto, como eu mesmo até então fiz, seus textos mais técnicos, a exemplo de quando, numa leitura que proferiu sobre o papel da crítica textual, traduzida pelo Raphael no seu blog, diz: "A maioria dos homens é um tanto estúpida, e muitos daqueles que não são estúpidos são, consequentemente, um tanto vãos; e dificilmente é possível escapar da busca pela verdade sem cair vítima ou de sua estupidez ou de sua vaidade"), ele ergueu o olhar e disse, com uma voz diferente: "Eu gostaria de passar os minutos restantes tomando essa ode como poesia tão somente". Ele leu com emoção tanto a ode em latim quanto sua própria tradução e comentou:
"Este", ele disse com pressa, quase como alguém traindo um segredo, "eu considero o mais belo poema da literatura antiga", e saiu rapidamente da sala.Sua tradução é realmente muito bonita. Há um trabalho específico feito pelo professor R. Gaskin sobre a relação entre Housman e Horácio. No capítulo dedicado a analisar esta sua tradução, o único a que tive acesso, o professor chama a atenção para os versos:
But oh, whate’er the sky-led seasons mar,
Moon upon moon rebuilds it with her beams:
"the sky-led seasons mar". É muito bom. Gaskin teve acesso aos apontamentos de Housman sobre a ode e constatou que para ele, "damna caelestia" no original se relaciona a males sazonais e a conjunção "tamen" conecta a oração à anterior, contrastando os males celestes com os males que afetam a nós, terráqueos. O professor defende que é uma leitura equivocada, uma vez que "tamen" aparece como que introduzindo uma ideia concessiva à maneira do que Virgílio fez naquele célebre verso que deu origem à bandeira dos inconfidentes. Ou seja: embora ("tamen") o céu tenha sofrido danos, a lua os repara.
Não conheço muito bem a obra do Housman. O Raphael, se calhar de aparecer por aqui, poderá dizer melhor. Gaskin lista uma série de elementos que podem ter levado o tradutor a amar com tal intensidade a ode: por exemplo sua forma epigramática, a tendência autocontida das estrofes, a parcimônia no uso dos adjetivos, a associação da primavera à morte e a alusão ao amor fraterno, "the love of comrades", no final do texto, não sendo à toa que este último elemento é um desenvolvimento do que no original é um simples adjetivo: "carus". De minha parte, me agrada bastante "leaves on the shaws" no primeiro verso, que especifica de modo admirável a expressão "arboribusque comae", uma vez que "shaw" quer dizer um tipo de matagal pequeno e espesso.
Em língua portuguesa, a grande paráfrase desta ode de Horácio foi feita por Camões. Se algum dia eu vier a dar uma aula sobre imitação e emulação na poética antiga e clássica, essa ode de Camões seria um exemplo realmente muito bom. Há uma ótima leitura pelo professor Paulo Sérgio Vasconcellos que recenseia as fontes horacianas nesse poema português. Camões aqui meio que mescla essa ode de Horácio com a quarta do primeiro livro. Segundo a tradição, haveria um lapso temporal considerável entre os três primeiros livros de odes e o quarto. O tipo de estrofe que Horácio usa nessas odes, a chamada estrofe arquiloquiana, foi usada em três odes do primeiro livro, de modo que retomar essa construção no quarto parece ser um modo de estabelecer uma ponte ou uma ressonância.
São poemas realmente muito próximos. Começam dizendo que o inverno vai embora, no que usam inclusive de verbos que pertencem a um campo semântico no mínimo próximo: "diffugio", isto é, dissipo, e "solvo", dissolvo. Temos então a descrição de um clima festivo e algo sensual, valendo-se para tanto de ninfas e graças em dança, e o enquadramento dos poemas dentro da estrutura maior do carpe diem, que envolve uma conclamação para se viver os prazeres do agora e não se fiar no futuro e nem mesmo na imortalidade, afinal de contas a morte é um fenômeno inesperado. No entanto, apesar das semelhanças, Gaskin tem toda razão quando ressalta o quão diferentes elas são. Na ode 1.4, por exemplo, a descrição da primavera, que introduz o texto, se demora por mais tempo, e quando a morte chega no verso 13, ela como que choca o leitor. Compare com o que ocorre na ode do quarto livro, em que a descrição das estações cedendo lugar uma à outra, imbricando-se quase, faz com que o surgimento da morte não seja tão aterrador, aparentando ser em certo sentido até mesmo natural.
O propósito de Camões é um pouco distinto. Quando diz que "não sabe o tempo ter firmeza em nada", ele está captando um dos conceitos essenciais da ode horaciana e o trazendo para seus propósitos essencialmente cristãos. Ou seja, não é muito produtivo crermos que a ode camoniana termine numa conclamação para viver a vida, o que pode ser visto por exemplo quando o poeta, na ode 1.4, diz que se faz preciso imolar cabrinhas e cordeirinhos ao deus Fauno. Quando diz que não há nada que faça frente ao fim da noite eterna, está ressaltando que qualquer gozo presente que não esteja justamente guiado para esse encontro inevitável com a morte não é, propriamente falando, aproveitar o tempo.
O bem que aqui se alcança
não dura, por possante, nem por forte;
que a bem-aventurança
durável de outra sorte
se há-de alcançar, na vida, para a morte.
Eis uma estrofe central para a ode camoniana. Ao imitar Horácio em dois momentos importantes de sua obra, Camões quer superar o ensinamento do poeta latino apresentando ao leitor alguma coisa que esteja além do bem que se pode alcançar aqui na terra. Não é gratuito, sendo assim, que ponha em contraste um bem que aqui se alcança a uma bem-aventurança futura, "durável de outra sorte". Os atos da nossa vida devem ser guiados para a vida após a morte, a prestação de contas a que no fim haveremos de fazer. Enquanto em Horácio a variação das estações nos mostra que, para usar as palavras de Camões, "não sabe o tempo ter firmeza em nada", em Camões a doutrina é distinta, afinal de contas as mudanças das estações fazem parte de um plano maior de Deus, e quem, diante dessas mutações da natureza, se apega ao agora, ao instante, ao hoje, está ignorando que é na vida eterna, e tão somente nela, que devemos nos fiar.
Diffugere nives, redeunt iam gramina campis
arboribusque comae;
mutat terra vices et decrescentia ripas
flumina praetereunt;
Gratia cum Nymphis geminisque sororibus audet
ducere nuda choros.
Inmortalia ne speres, monet annus et almum
quae rapit hora diem.
Frigora mitescunt Zephyris, ver proterit aestas,
interitura simul
pomifer autumnus fruges effuderit, et mox
bruma recurrit iners.
Damna tamen celeres reparant caelestia lunae:
nos ubi decidimus
quo pater Aeneas, quo dives Tullus et Ancus,
puluis et umbra sumus.
Quis scit an adiciant hodiernae crastina summae
tempora di superi?
Cuncta manus avidas fugient heredis, amico
quae dederis animo.
Cum semel occideris et de te splendida Minos
fecerit arbitria,
non, Torquate, genus, non te facundia, non te
restituet pietas;
infernis neque enim tenebris Diana pudicum
liberat Hippolytum,
nec Lethaea valet Theseus abrumpere caro
vincula Pirithoo.
Soluitur acris hiems grata vice veris et Favoni
trahuntque siccas machinae carinas,
ac neque iam stabulis gaudet pecus aut arator igni
nec prata canis albicant pruinis.
Iam Cytherea choros ducit Venus imminente luna
iunctaeque Nymphis Gratiae decentes
alterno terram quatiunt pede, dum gravis Cyclopum
Volcanus ardens visit officinas.
Nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto
aut flore, terrae quem ferunt solutae;
nunc et in umbrosis Fauno decet immolare lucis,
seu poscat agna sive malit haedo.
Pallida Mors aequo pulsat pede pauperum tabernas
regumque turris. O beate Sesti,
vitae summa brevis spem nos vetat inchoare longam.
Iam te premet nox fabulaeque Manes
et domus exilis Plutonia, quo simul mearis,
nec regna vini sortiere talis
nec tenerum Lycidan mirabere, quo calet iuventus
nunc omnis et mox virgines tepebunt.
De vicejante relva se matizam
E, de virente Coma
As corpulentas Árvores se enfeitam.
Muda de face a Terra, os turvos rios
Eis já se estreitam mais nas vítreas margens:
Formam as graças nuas
Co'as gentis Ninfas concertadas Danças.
A sucessão das Estações, das Horas
Que os leves dias rápidas nos levam;
Com alta voz nos bradam
Que a eterna duração debalde anelas.
O rude Inverno os Zéfiros abrandam;
Sucede à Primavera o seco Estio
Que se retira, e foge
Quando o Outono pomífero aparece.
Logo, prestes retorna o frio Inverno,
Mas finda seu rigor, findam seus danos;
Só nós quando descemos
Às sombras onde existe o pio Eneias,
Onde envolto jaz Aneu, e o rico Tulo:
Somos ligeiro pó, volantes sombras.
Quem sabe se os Destinos
Um dia mais, nos guardam d'existência!
Tudo quanto ao prazer deres contente
Escapará das mãos de avaro herdeiro,
Quando da Parca o ferro
O fio te cortar da frágil vida,
Quando em seu Tribunal, Minos te julgue
Nada, oh Caro Torquato, o sangue ilustre,
A Eloquência, a virtude
Te há de chamar de novo à doce vida.
Das trevas infernais tirar não pôde
Jamais o casto Hipólito, Diana:
Nem das prisões do Letes,
Teseu desliga o pranteado Amigo.
Nas azas do Favonio a Primavera:
Ao fundo Pego as Máquinas conduzem
Os Baixéis, que vararão.
Deixa o Gado os currais, e deixa o Fogo
O Lavrador contente; por que observa
Livres do Gelo os campos dilatados.
À frouxa luz da prateada Lua,
Conduz das Ninfas Citereia os Coros;
Vem com elas as Graças, e alternadas
A dura Terra pisam;
Enquanto anda Vulcano, envolto em chama,
Aos hórridos Ciclopes acendendo
As afumadas, tristes Oficinas.
Agora cumpre de cheirosas flores,
Que já brotam da terra, ou verde Murta
Ornar, cingir a nítida madeixa:
Ora ofertar se deve
Ao caprípede Fauno em denso Bosque
As prometidas vítimas, ou queira
Tenro Cabrito, ou mansa Cordeirinha.
Com seu pé sempre igual, pálida Morte
As portas das Choupanas, e Palácios
Eis bate imparcial. Sexto ditoso,
Da passageira vida
O leve curso, longas esperanças
Formar nos veda; a Noite se aproxima,
Já, já te aguardam fabulados Manes.
E de Plutão sombrio a estreita Casa
Já te espera também: súbito entrares,
Não serás mais o Árbitro do Vinho,
Tirado em leda Sorte:
Não verás mais de Lícidas o rosto,
Que a Juventude férvida namora,
Por quem as Moças arderam de amores.
ODE 4.7
And grasses in the mead renew their birth,
The river to the river-bed withdraws,
And altered is the fashion of the earth.
The Nymphs and Graces three put off their fear
And unapparelled in the woodland play.
The swift hour and the brief prime of the year
Say to the soul, Thou wast not born for aye.
Thaw follows frost; hard on the heel of spring
Treads summer sure to die, for hard on hers
Comes autumn, with his apples scattering;
Then back to wintertide, when nothing stirs.
But oh, whate’er the sky-led seasons mar,
Moon upon moon rebuilds it with her beams:
Come we where Tullus and where Ancus are,
And good Aeneas, we are dust and dreams.
Torquatus, if the gods in heaven shall add
The morrow to the day, what tongue has told?
Feast then thy heart, for what thy heart has had
The fingers of no heir will ever hold.
When thou descendest once the shades among,
The stern assize and equal judgment o’er,
Not thy long lineage nor thy golden tongue,
No, nor thy righteousness, shall friend thee more.
Night holds Hippolytus the pure of stain,
Diana steads him nothing, he must stay;
And Theseus leaves Pirithous in the chain
The love of comrades cannot take away.
ODE
dos altos montes, quando reverdecem
as árvores sombrias;
as verdes ervas crescem,
e o prado ameno de mil cores tecem.
Zéfiro brando espira;
suas setas Amor afia agora;
Progne triste suspira
e Filomela chora;
o Céu da fresca terra se enamora.
Vai Vénus Citereia
com os coros das Ninfas rodeada;
a linda Panopeia,
despida e delicada,
com as duas irmãs acompanhada.
Enquanto as oficinas
dos Ciclopes Vulcano esta queimando,
vão colhendo boninas
as Ninfas e cantando,
a terra c'o ligeiro pé tocando.
Desce do duro monte
Diana, já cansada d'espessura,
buscando a clara fonte
onde, por sorte dura,
perdeu Actéon a natural figura.
Assi se vai passando
a verde Primavera e seco Estio;
trás ele vem chegando
depois o Inverno frio,
que também passará por certo fio.
Ir-se-á embranquecendo
com a frígida neve o seco monte;
e Júpiter, chovendo,
turbará a clara fonte;
temerá o marinheiro a Orionte.
Porque, enfim, tudo passa;
não sabe o tempo ter firmeza em nada;
e nossa vida escassa
foge tão apressada
que, quando se começa, é acabada.
Que foram dos Troianos
Hector temido, Eneias piadoso?
Consumiram-te os anos,
Ó Cresso tão famoso,
sem te valer teu ouro precioso.
Todo o contentamento
crias que estava no tesouro ufano?
Ó falso pensamento
que, à custa de teu dano,
do douto Sólon creste o desengano!
O bem que aqui se alcança
não dura, por possante, nem por forte;
que a bem-aventurança
durável de outra sorte
se há-de alcançar, na vida, para a morte.
Porque, enfim, nada basta
contra o terrível fim da noite eterna;
nem pode a deusa casta
tornar à luz superna
Hipólito, da escura noite averna.
Nem Teseu esforçado,
com manha nem com força rigorosa,
livrar pode o ousado
Pirítoo da espantosa
prisão leteia, escura e tenebrosa.
ARTIGO
EPÍSTOLAS E ÉPODOS
EM HORÁCIO
Neste artigo, trataremos um pouco sobre Odes e Sátiras, Epístolas e Épodos em Horácio. Aproveito também para me desculpar pela ausência nos meses anteriores. Fato que se deu por motivo de doença.
E o que são odes?
As odes (também chamadas de hinos) são o conjunto entre a poesia e a música, a melodia e a métrica entrelaçadas em forma de um canto no qual pode refletir muitas emoções, desde e alegre, até fúnebre e misericordioso. Chegando a se tornar heróico futuramente uma poesia rimada com objetivos nobres, como homenagens a figuras ilustres ou como uma sublime, mas respeitosa dedicatória em um funeral.
Odes, em resumo, são poemas líricos.
As odes, em Horácio, são referência à pátria, aos governantes, aos deuses, as amadas, aos costumes, à sociedade, a nós, aos homens.
Como exemplo de Ode mais conhecida de Horácio temos que citar o poema “Carpe diem” em sua tradução, ainda que seja muito citado por outros não podemos deixar também de fazê-lo. Sua beleza simples e escrita direta o fez se perpetuar nos anos. Vamos à Ode!
“Colha o dia, confia o mínimo no amanhã"
Não pergunte, saber é proibido, o fim que os deuses
darão a mim ou a você, Leuconoe, com os adivinhos da Babilônia
não brinque. É melhor apenas lidar com o que cruza o seu caminho
Se muitos invernos Júpiter te dará ou se este é o último,
que agora bate nas rochas da praia com as ondas do mar
Tirreno: seja sábio, beba seu vinho e para o curto prazo
reescale suas esperanças. Mesmo enquanto falamos, o tempo ciumento
está fugindo de nós. Colha o dia, confia o mínimo no amanhã.
“Carpe diem” é o poema que se propagou no espaço conforme dito acima. O escritor Horácio está longe de ser o poeta de um único poema, suas obras são vastas e merecedoras de leitura e apreciação.
Como já disse em outro artigo, quero conhecer o homem e suas obras, vou à fonte. Pesquiso em suas obras.
E, ao beber na fonte, o leitor, toma conhecimento da obra literária, e não consegue, ou não deveria, a ela ficar indiferente. Formulará, ao certo, uma opinião favorável, ou não sobre o escritor e suas obras.
O fazer artístico, no nosso caso específico, a literatura, só completa sua função quando consegue, em seu interlocutor/leitor, despertar a sua manifestação de gosto.
O objeto de desejo do artista é
o seu público, seu “consumidor”.
“Escrever, digo sempre, é abrir a porta sabendo que o resto da paisagem está no coração do leitor” (Bartolomeu Campos de Queiros).
Não obstante, a postura de um leitor não será condição para que o autor se prolongue no tempo e no espaço. Temos, aqui, leitor em seu sentido genérico. Será, sim, a qualidade de suas obras que o fará se propagar no tempo.
O tempo, este senhor, que não distancia o autor/obra de seus ouvintes ou leitores futuros. Mas que configura a infinitude ao artista quando de valor. Ratifica a sua grandiosidade.
O escritor Horácio conseguiu se perpetuar através de suas obras no tempo que guarda nele mesmo a morada dos imortais.
Se pudéssemos reproduzir a grande obra de Horácio na qual ele expressa sua atemporalidade, seria notável. Mas é impossível fazê-lo.
E cabe dizer que poesia não se repete, mas se lê mais de uma vez e tantas outras vezes quantas forem necessárias.
Então vejamos,
“Erigi um monumento mais duradouro que o bronze,
mais alto do que a régia construção das pirâmides
que nem a voraz chuva, nem o impetuoso Áquilo
nem a inumerável série dos anos,
nem a fuga do tempo poderão destruir.
Nem tudo de mim morrerá, de mim grande parte
escapará a Libitina: jovem para sempre crescerei
no louvor dos vindouros, enquanto o pontífice
com a tácita virgem subir ao Capitólio.
Dir-se-á de mim, onde o violento Áufido brama,
onde Dauno pobre em água sobre rústicos povos reinou,
que de origem humilde me tornei poderoso,
o primeiro a trazer o canto eólio aos metros itálicos.
Assume o orgulho que o mérito conquistou
e benévola cinge meus cabelos,
Melpómene, com o délfico louro.” -Horácio
Simplesmente encantador.
Contudo nem só de odes vivia o homem… ele também escrevia sátiras.
Suas sátiras “alfinetavam” seus objetos de escrita. Porém suas críticas amenizavam seus alvos.
E o que são sátiras?
Sátiras, segundo a definição do dicionário online, são uma “Construção poética, livre e repleta de ironia que se opõe aos costumes, ideias ou instituições da época (em questão). Construção poética com o propósito de criticar: sátira política (o que se encaixaria muito bem no momento que vivemos). Literatura, composição poética, cujo objetivo é ridicularizar vícios e/ou comportamentos. Crítica categórica e austera que, feita de maneira irônica, causa zombaria.”.
As sátiras estão mais ligadas à vida urbana e as loucuras dos homens que vivem nas cidades.
Como surgem as sátiras?
As sátiras aparecem da necessidade que o homem tem de ridicularizar e de questionar de forma jocosa alguns comportamentos de sua sociedade; essas advém do escárnio do comportamento individual ou de uma coletividade.
“Foi a literatura, contudo, que popularizou o estilo a partir da comédia, já no século V, em Atenas. Entre os autores de maior destaque está o grego Epicarmo, cujo texto cômico ironizava os intelectuais de seu tempo.
O apogeu, contudo, ocorreu em Roma, onde foi aperfeiçoada nos escritos de Gaio Lucílio, com sua poesia moral e recheada de filosofia.”
Uma boa sátira requer o total conhecimento do objeto que se deseja ironizar. Isto é de extrema importância.
É preciso ter conhecimento dos costumes a serem ironizados para que a obra literária passe veracidade. A verossimilhança na literatura é o que lhe confere a possibilidade de identificação do leitor e a obra.
Já as epístolas e épodos são outros recursos de escrita desse nosso escritor latino.
Epístolas nada mais são do que cartas, época em que muitas eram escritas. E algumas se publicadas seriam como verdadeiros livros-diários. Trocas ricas de pontos de vistas e verdades do coração de quem as escrevia.
As cartas, diferentes dos e-mails atuais, o que não posso me furtar a dizer, eram escritas sem a pressa da informação, mas na beleza dos detalhes.
“Epístola era um texto escrito em forma de carta, onde se expressam opiniões, manifestos, e discussões para além de questões ou interesses meramente pessoais ou utilitários, sem porém deixar o estilo formal, que combina amores objetivos e apelos subjetivos com o debate de cenas abrangentes e abstratos. As epístolas reunidas de um autor podem vir a ser publicadas devido a seu interesse histórico, literário, institucional ou documentário.”
Com certeza, nenhuma definição fria de um dicionário poderá ser fiel ao texto de uma epístola de Horácio.
As epístolas de nosso conhecido autor fugiam do tom comum, eram poesias sob a alcunha de cartas.
Seu estilo literário estava presente em suas epístolas. Vejamos uma parte de uma bela epístola de Horácio endereçada a um jovem:
“… não despertas para salvar a ti mesmo? Mas se não queres correr quando estás são, correrás quando fores hidrópico. E se, antes que raie o dia, não buscares um livro e um lume, senão aplicares tua alma aos estudos e às coisas honestas, insone serás atormentado ou pela inveja ou pelo amor. Por que te apressas em tirar aquilo que te fere o olho mas, se alguma coisa te rói o espírito, adias para o ano a ocasião de curar-te?
Quem começa, já faz a metade da obra; resolve-te a ser sábio: começa.
Quem adia o momento de viver retamente faz como o camponês que, a fim de atravessar, espera a água do rio parar de correr; a água, porém, corre e correrá veloz por todo o tempo.
…
Entre a esperança e as preocupações, entre iras e temores, deves sempre julgar cada dia que surge como sendo o teu último dia: assim, o tempo que não esperavas ser-te-á mais grato.
Quando quiseres rir, vem visitar-me: ver-me-ás gordo e bem disposto, com a pele bem tratada, como um porco da grei de Epicuro!
Épodos : “Significado- Copla lírica formada de dois versos desiguais. Nos coros de tragédias, parte lírica que se cantava depois da estrofe e da antístrofe. Nome dado a pequenos poemas satíricos de Horácio.”
(Épodos – Dicio, Dicionário Online de Português)
E como não poderia deixar de fazê-lo, me despeço com frases de encorajamento do nosso escritor Horácio.
“Somos como o galho que enverga, mas não se quebra diante dos problemas que se apresentam a nós em um ano tão cheio de infortúnios”.
“A adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecida.”(alguém lembrou de 2020 ? ).
Horácio, escritor “ladino”, sabia que os caminhos possuem enfeites espinhosos e outros que não o são. Só a adversidade nos fortalece na crença em nossas possibilidades. E no reconhecimento de nossas fraquezas nos tornamos mais fortes.
Vamos descobrindo uma força desconhecida que só as adversidades têm a exata medida para fazer despertar o desejo de mudança e a capacidade de resiliência que palpita em cada um de nós.
Dito isso não poderia deixar de citar a Ode (endereçada a Licínio que alguns dizem ser cunhado de Mecenas):
Licínio, viverás de modo mais correto,
não afrontando sempre o mar alto nem, cauto,
ao temer tempestades, raspando em excesso
o iníquo litoral.
Todo aquele que a áurea mediania amar,
seguro, evitará as misérias de um teto
deteriorado; sóbrio, evitará palácio
para ser invejado.
Com mais frequência pelos ventos é agitado
pinheiro enorme, e torres elevadas tombam
com queda mais pesada, e as montanhas mais altas
os relâmpagos ferem.
Tem esperança na desgraça, na bonança
teme diversa sorte o bem disposto peito.
Os disformes invernos Júpiter nos traz,
ele mesmo os remove.
Se agora a situação mal está, não será
assim um dia; por vezes a calada Musa
Apolo acorda com a cítara, nem sempre
mantém o arco entesado.
Mostra-te corajoso e forte nos apertos;
do mesmo modo, quando o vento favorável
em excesso estiver, vais sabiamente as velas
túrgidas recolher
Uma sátira de Horácio
Guilherme Gontijo Flores*
Especial para o Jornal Opção
Nesta última da tríade anedótica, o primeiro sermo (conversa) propriamente dito do livro dos Sermones/Satirae de Horácio, ele narra como teria sido assediado por um poeta arrivista interessado em entrar para o círculo de Mecenas; um inimigo fácil pelo mau gosto, preferência de quantidade sobre qualidade, falta de escrúpulos, etc. Nesta sátira, por meio de um procedimento autoirônico (já que não consegue se desvencilhar facilmente de seu interlocutor, tal como Priapo falha no poder de seu discursos em 1.8), Horácio mostra o complexo jogo de poderes na poesia romana, ao mesmo tempo em que tenta demonstrar que o círculo de Mecenas é diverso do resto. No entanto, é difícil não ter a impressão de que o arrivista ecoa exatamente o que se falaria de Horácio, segundo ele mesmo nos diz na sátira 1.6; ou seja, o arrivista é potencialmente o próprio Horácio no passado. Assim, depois da possível “limpeza” política de 1.7, cultural de 1.8, Horácio nos mostra também o embate e a disputa literária em Roma. Restaria nos perguntarmos então por que somos levados a concordar com Horácio.
1.9
……….. Ibam forte uia Sacra, sicut meus est mos,
nescio quid meditans nugarum, totus in illis:
accurrit quidam notus mihi nomine tantum
arreptaque manu “Quid agis, dulcissime rerum?”
“Suauiter, ut nunc est” inquam, “et cupio omnia quae uis.”
Cum assectaretur, “Numquid uis?” occupo. At ille
“Noris nos” inquit; “docti sumus.” Hic ego “Pluris
hoc” inquam “mihi eris.”
……………………………. Misere discedere quaerens
ire modo ocius, interdum consistere, in aurem
dicere nescio quid puero, cum sudor ad imos
manaret talos. “O te, Bolane, cerebri
felicem!” aiebam tacitus, cum quidlibet ille
garriret, uicos, urbem laudaret. Vt illi
nil respondebam, “Misere cupis” inquit “abire,
iamdudum uideo, sed nil agis; usque tenebo.
Persequar hinc quo nunc iter est tibi.” “Nil opus est te
circumagi. Quendam uolo uisere non tibi notum;
trans Tiberim longe cubat is prope Caesaris hortos.”
“Nil habeo quod agam et non sum piger: usque sequar te.”
Demitto auriculas, ut iniquae mentis asellus,
cum grauius dorso subiit onus.
……………………………………….. Incipit ille:
“Si bene me noui, non Viscum pluris amicum,
non Varium facies. Nam quis me scribere pluris
aut citius possit uersus? Quis membra mouere
mollius? Inuideat quod et Hermogenes, ego canto.”
Interpellandi locus hic erat: “Est tibi mater,
cognati, quis te saluo est opus?” “Haud mihi quisquam;
omnis composui.” “Felices! Nunc ego resto.
Confice; namque instat fatum mihi triste, Sabella
quod puero cecinit mota diuina anus urna:
‘Hunc neque dira uenena nec hosticus auferet ensis
nec laterum dolor aut tussis nec tarda podagra:
garrulus hunc quando consumet cumque; loquaces,
si sapiat, uitet, simul atque adoleuerit aetas.’”
……….. Ventum erat ad Vestae, quarta iam parte diei
praeterita, et casu tum respondere uadato
debebat, quod ni fecisset, perdere litem.
“Si me amas” inquit, “paulum hic ades.” “Inteream si
aut ualeo stare aut noui ciuilia iura,
et propero quo scis.” “Dubius sum, quid faciam” inquit,
“tene relinquam an rem.” “Me, sodes.” “Non faciam” ille,
et praecedere coepit. Ego, ut contendere durum
cum uictore, sequor. “ Maecenas quomodo tecum?”
hinc repetit: “Paucorum hominum et mentis bene sanae;
nemo dexterius fortuna est usus. Haberes
magnum adiutorem, posset qui ferre secundas,
hunc hominem uelles si tradere. Dispeream, ni
summosses omnis.” “Non isto uiuimus illic
quo tu rere modo. Domus hac nec purior ulla est
nec magis his aliena malis. Nil mi officit” inquam,
“ditior hic aut est quia doctior; est locus uni
cuique suus.” “Magnum narras, uix credibile.” “Atqui
sic habet.” “Accendis, quare cupiam magis illi
proximus esse.” “Velis tantummodo, quae tua uirtus,
expugnabis; et est qui uinci possit, eoque
difficilis aditus primos habet.” “Haud mihi deero:
muneribus seruos corrumpam; non, hodie si
exclusus fuero, desistam; tempora quaeram;
occurram in triuiis; deducam. Nil sine magno
uita labore dedit mortalibus.”
……………………………………….. Haec dum agit, ecce
Fuscus Aristius occurrit, mihi carus et illum
qui pulchre nosset. Consistimus. “Vnde uenis?” et
“Quo tendis?” rogat et respondet. Vellere coepi
et pressare manu lentissima bracchia, nutans,
distorquens oculos, ut me eriperet. Male salsus
ridens dissimulare, meum iecur urere bilis.
“Certe nescio quid secreto uelle loqui te
aiebas mecum.” “Memini bene, sed meliore
tempore dicam. Hodie tricesima sabbata: uin tu
curtis Iudaeis oppedere?” “Nulla mihi” inquam
“religio est.” “At mi. Sum paulo infirmior, unus
multorum: ignosces, alias loquar.” Huncine solem
tam nigrum surrexe mihi? Fugit improbus ac me
sub cultro linquit. Casu uenit obuius illi
aduersarius et “Quo tu, turpissime?” magna
inclamat uoce, et “Licet antestari?” Ego uero
oppono auriculam. Rapit in ius: clamor utrimque,
undique concursus. Sic me seruauit Apollo.
1.9
……….. Eu cruzava a Via Sacra, como de praxe,
só pensando em quaisquer bagatelas, nelas imerso,
quando aparece um figura que eu mal conhecia de nome
pega na mão e “Como vai, meu doce parceiro?”
“Suave que só”, respondo, “e quero que tenha o que queira.”
Como ele insiste, irrompo “Diga o que quer.” E retorque
“Já nos conhece, somos cultos.” Nisso retruco
“Muito te estimo por tudo.”
……………………………………….. Coitado, procuro uma fuga,
logo aperto o passo, paro por vezes, sussurro
coisas no ouvido do escravo, sinto o suor escorrendo
pela canela, me digo calado “Grande Bolano,
sorte é ter o teu cérebro!”, e ele tagarelando
sobre tudo, louva as ruas e Roma; mas como
nada falo, diz “Coitado, procura uma fuga,
logo vi; mas não consegue, então continuo,
vou com você até o destino.” “Não se preocupe,
deixe: quem vou ver não é dos teus conhecidos,
mora longe, pra lá do Tibre, nos hortos de César.”
“Hoje estou à toa, não tenho preguiça, te sigo.”
Baixo minhas orelhas que nem um jumento irritado
quando aumenta o peso no lombo.
…………………………………………………… Mas ele começa:
“Se me conheço bem, logo serei teu amigo
mais do que Visco ou Vário. Pois quem versos escreve
mais veloz do que eu? E quem remexe seus membros
mais molenga? Se canto, Hermógenes morre de inveja.”
……….. Eis uma chance de quebra. “Tem por acaso um parente,
mãe ou alguém que dependa do teu bem-estar?” “Enterrei-os
todos” “Felizes deles! E eu fiquei nesta vida.
Finde o serviço! Chega o dia fatal que a sabélia
velha mexendo na urna cantou quando eu era menino:
‘Nem terríveis venenos, nem espada inimiga,
tosse, pleurisia ou gota podem levá-lo:
um tagarela o irá consumir; e se sabe, que evite
todo e qualquer falastrão assim que passarem os anos.’”
……….. Nisso passa das dez, chegamos ao templo da Vesta,
quando por sorte aparece uma intimação que o convoca:
se ele não responder no ato, perde o litígio.
“Por amor, me ajude um pouquinho”, me diz. “Que eu pereça,
se conheço direito civil: estou fraco das pernas,
e inda tenho aquela pressa.” “Agora estou hesitante
entre você e o litígio” “ Tranquilo, me deixe.” “Não posso”,
diz e avança. Sem força no embate dum duro guerreiro
vou seguindo. “Como está com você o Mecenas?”
ele retoma, “Tem poucos amigos e mente saudável;
como sabe usar da sorte! Você com certeza
pode ter um ajuda com papel secundário
caso apresente esse homem direto pro grupo. Que eu morra
se você não suplanta o resto.” “Não convivemos
como você imagina. Não vejo casa mais pura,
livre dessas intrigas e pouco me importa”, lhe digo,
“se há alguém mais rico ou culto: todos recebem
seu lugar.” “Que lindo — e pouco crível.” “Mas saiba
que é assim.” “Acendeu meu desejo de enfim conhecê-lo
mais de perto.” “Basta querer e, com tanta virtude,
vai conquistar, pois ele é vencível, por isso parece
tão esquivo ao primeiro encontro.” “Nessa eu acerto:
com presentes vou corromper os escravos; e se hoje
for expulso, não desisto, tento no tempo,
surjo na esquina, acompanho pra casa: nada na vida
vem sem esforço aos mortais.”
…………………………………………. E enquanto prossegue, aparece
meu querido Arístio Fusco que já conhecia
bem o sujeito. Paramos. “Vem daonde?” e “Aonde
vai?” pergunta e responde. Tento de pronto apertá-lo
pelas mangas, pelo braço, com gestos e olhares
peço apenas resgate. Porém o malvado sorrindo
finge não entender: meu fígado ferve de bile.
“Sei que você queria falar uma coisa comigo,
mais privado.” “Lembro bem, mas depois eu te conto
noutro momento: pois hoje será o trigésimo Sabbath,
quer peidar nos judeus circuncisos? “Não tenho nenhuma
religião.” “Porém eu tenho: sou um dos tantos
homens fracos, perdoe, falamos depois.” Poderia
dia tão negro nascer para mim? Mas foge o cretino,
deixa-me ao fio da faca.
…………………………… Mas por acaso nos chega
seu litigante e “Onde vai, seu feio?”, conclama a
plenos pulmões, “E posso chamar pra dar testemunho?”
Mostro as orelhas. Nisso o leva à corte e em clamores
todos os cercam. Assim me salvei por graça de Apolo.
Notas do tradutor:
v. 1 A Via Sacra era a mais antiga rua de Roma, partia do Santuário de Silênia, perto de onde hoje está o Coliseu, e ia até o Foro.
v. 3: Importante observar que o nome do interlocutor nunca aparece no poema, o que nos leva a pensar que, mais do que uma sátira pessoal ao indivíduo, temos aqui um poema que critica uma figura típica da sociedade romana, ao modo dos Caracteres de Teofrasto. E mais, Horácio em nenhum momento adjetiva seu interlocutor, que permanece inteiramente um construto do leitor a partir da narrativa dialogada horaciana.
v.v 11-12: Não sabemos que seja Bolano; talvez um poeta satírico mais violento que Horácio.
v. 18: Os jardins, além do Tibre, tinha sido deixados por Júlio César para o povo romano (cf. Suetônio, César 83).
vv. 22-3: Víbio Visco, equestre amigo de Otaviano. Vário era membro do círculo de poetas em torno de Mecenas; ele foi um dos editores póstumos da Eneida de Virgílio.
vv. 23-5: O interlocutor parece nem conhecer a poesia de Horácio, já que se vangloria exatamente daquilo que o poeta já mostrou detestar nas primeiras sátiras, cf. por exemplo 1.4.12 ou 1.4.72. Hermógenes Tigélio de Sardes foi um cantor famoso admirado por Júlio César e Cleópatra e, postariormente, também por Augusto. Ele foi atacado por Calvo num verso que nos chegou: Sardi Tigelli putidum caput uenit (“E a testa podre de Tigélio já chega”); essa figura atravessa o primeiro livro satírico de Horácio.
vv. 29-30: Sabélia é referência étnica que engloba sabinos e samnitas, ao mesmo tempo em que evoca o nome de Sibila, para a vidente que anuncia o fim do poeta Horácio.
v. 25: O templo da Vesta ficava na parte leste do Foro, talvez próximo da estátua de Mársias e de Apolo?
v. 61-72: Arístio Fusco, poeta cômico e gramático, amigo de Horácio, também aparece nas Odes 1.22 e nas Epístolas 1.10. A referência ao sabá é provavelmente non-sense; mas Fusco aproveita para zombar do desinteresse religioso de Horácio, que agora o impede de se salvar. Seja como for, há muita discussão filológica sobre a passagem, para tentar determinar a data do acontecimento; sem consenso dos comentadores. O que parece mais interessante, a meu ver, é que Horácio aqui não é salvo pelo amigo, como ele mesmo supunha na terceira sátira, ou seja, o poeta autoironicamente se desconstrói, enquanto se mostra fraco na violência satírica e desamparado pelos amigos.
vv. 76-7: Era costume arcaico romano que um presente, quando aceitasse servir de testemunha num caso, oferece sua orelha para o toque do litigante.
v. 78: Apolo é o deus da lei e da ordem, tinha uma estátua no Foro, mas sobretudo aparece aqui como protetor dos poetas; mas o verso também ecoa a expressão homérica τòν δ’ ἐξήρπαξεν ’ Απόλλων (Ilíada 20.443), que já havia sido parodiada por Lucílio no seu sexto livro. Na passagem homérica, Heitor é salvo de Aquiles por uma nuvem criada por Apolo; podemos então imaginar que Horácio, um guerreiro mais fraco (como ele mesmo sugere nos vv. 42-3), só pode escapar por intervenção divina. Ironicamente, sabemos que Heitor será depois derrotado; podemos pensar que, no fim, Horácio também não terá escapatória às palavras da velha sabélia?
Guilherme Gontijo Flores (Brasília, 1984) é poeta, tradutor e professor na Universidade Federal do Paraná (UFPR).
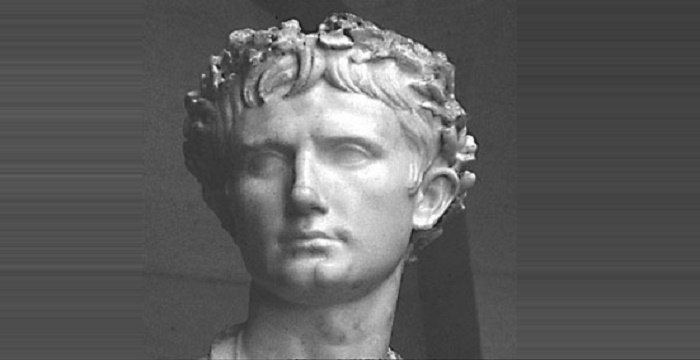
A poesia lírica de Horácio
por Alexandre Pinheiro Hasegawa
Ao iniciar a carreira lírica, Horácio, dirigindo-se a Mecenas, promete-lhe, caso venha a ser inserido entre os poetas modelares do gênero, que, sublime, atingirá os astros (Odes 1.1.35-36: quod si me lyricis vatibus inseris, / sublimi feriam sidera vertice: “e se entre os vates líricos tu me inserires, / vou atingir os astros com sublime fronte”); a poesia o mistura aos deuses superiores (Odes 1.1.29-30: me doctarum hederae praemia frontium / dis miscent superis: “as heras, prêmios das doutas frontes, me / misturam aos deuses súperos”). Não passou despercebido da crítica que a conclusão da ode inicial, neste movimento de elevação, da terra aos céus, volta ao início da composição, quando, ao iniciar o priamel, descreve aqueles que buscam a glória na competição atlética; esses, vitoriosos, senhores da terra, são elevados até os deuses (vv.5-6: palmaque nobilis / terrarum dominos evehit ad deos: “e a nobre palma / ergue os senhores das terras até os deuses”). Dos astros, com que se fecha a primeira ode de Horácio, das alturas do céu somos levados de novo às terras com Júpiter a lançar neve e granizo na ode sucessiva (Odes 1.2.1-2: iam satis terris nivis atque dirae / grandinis misit Pater: “já às terras bastante neve e terrível / granizo enviou o Pai”). Ao final da segunda composição do primeiro livro das Odes, depois de revirar, com o dilúvio, os altos e baixos, colocando os peixes nos elevados montes e altos ulmeiros (vv.7-9: omne cum Proteus pecus egit altos / visere montes, // piscium et summa genus haesit ulmo: “quando Proteu levou todo o gado a ver os elevados montes e o gênero dos peixes se prendeu no cume do ulmeiro”), deseja longa estadia na terra ao “vingador de César”, o deus Otávio-Mercúrio, demorando-se a retornar ao céu (vv.41-52):
sive mutata iuvenem figura
ales in terris imitaris, almae
filius Maiae, patiens vocari
Caesaris ultor,
serus in caelum redeas diuque 45
laetus intersis populo Quirini,
neve te nostris vitiis iniquum
ocior aura
tollat; hic magnos potius triumphos,
hic ames dici pater atque princeps, 50
neu sinas Medos equitare inultos
te duce, Caesar.
ou então tu, alado filho de Maia nutriz,
se imitares nas terras um jovem, mudado
o aspecto, suportando ser chamado
o vingador de César;
lentamente ao céu voltes e por muito tempo, 45
alegre, estejas entre o povo de Quirino,
e a brisa não te leve, muito rápido,
avesso aos nossos vícios;
aqui de preferência ames grandes triunfos;
aqui ser nomeado pai e soberano, 50
nem deixes que cavalgue inulto o Persa,
tu sendo o chefe, César.
Então, o deus Mercúrio, presente na terra como Otávio Augusto, tem duro trabalho no mundo, ao lutar contra os inimigos e vingar a morte de Júlio César. Se, logo na abertura (Odes 1.1), o poder político se faz presente no endereçamento e elogio a Mecenas (v.2: o et praesidium et dulce decus meum: “ó, minha proteção e minha doce glória”), na ode seguinte (Odes 1.2) ele se manifesta como divindade na figura do princeps. Assim, se Horácio termina a primeira composição, afirmando o poder que a poesia tem de elevar o homem aos deuses, agora conclui a segunda com um deus entre os homens, Augusto, que vai se demorar na terra.
Neste movimento, dos astros ao rés-do-chão e da terra ao céu, sucedem-se os poemas em linha horizontal no desenrolar do antigo volume (volumen) que Horácio faz desfilar em grande variação de metros e matérias. Assim, depois de se dirigir a Mecenas e introduzir Otávio Augusto, homenageia no terceiro poema (Odes 1.3) o poeta e amigo Virgílio, metade de sua alma (v.8: animae dimidium meae), que parte em viagem pelo mar. Esperávamos, pelo encerramento da ode anterior (1.2), uma permanência um pouco maior na terra com o deus Augusto-Mercúrio, mas somos levados novamente às alturas, a contemplar os irmãos de Helena, Castor e Pólux, “astros brilhantes” (v.2: sic fratres Helenae, lucida sidera), que, junto com Vênus, “poderosa deusa de Chipre” (v.1: diva potens Cypri), e Éolo, “pai dos ventos” (v.3: ventorumque … pater), devem governar a nau que leva aquele que introduziu Horácio no círculo de Mecenas, Virgílio. Não nos surpreende mais, portanto, que, ao final do terceiro poema, nesta busca pelo céu, encontremos Júpiter na tentativa de lançar novamente raios à terra (vv.37-40):
Nil mortalibus ardui est;
caelum ipsum petimus stultitia neque
per nostrum patimur scelus
iracunda Iovem ponere fulmina.
40
Aos mortais nada é árduo;
buscamos com loucura o próprio céu e não
permitimos, por nosso
crime, que Jove raios iracundos deponha.
40
Assim, ao final da terceira composição voltamos ao início da segunda, quando Júpiter, lançando seus raios, aterroriza a cidade (Odes 1.2.3-4: dextera sacras iaculatus arcis / terruit urbem: “com a destra, dardejando sagradas torres, aterrorizou a cidade”), mas no início da terceira ode, com os luminosos astros, retornamos ao fecho do poema de abertura, em que o poeta diz que os atingirá com sublime fronte. Poderíamos continuar na leitura sucessiva dos poemas e veríamos que na seguinte (Odes 1.4), sucedendo-se ao mau tempo dos “raios iracundos” de Jove, “desfaz-se rigoroso inverno pela agradável sucessão da primavera e do Favônio” (v.1: solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni). É assim, portanto, que Horácio encadeia seu discurso lírico que apresentamos hoje no quarto texto para o Estado da Arte – Estadão.
Depois da abertura, no primeiro poema em que faz explícita declaração do programa poético, em Odes 1.6, Horácio se caracteriza como pequeno (v.9: tenues), opondo-se ao grande (v.9: tenues grandia), contraposição ressaltada pela contiguidade dos adjetivos no verso. Depois de recusar a matéria elevada, seja da épica, com alusão à Ilíada (vv.5-6: … nec gravem / Pelidae stomachum cedere nescii: “nem a grave cólera do Pelida que não sabe ceder”) e à Odisseia (v.7: nec cursus duplicis per mare Vlixei: “nem o percurso por mar do dúplice Ulisses”), seja da tragédia, em provável referência ao Tieste de Vário (v.8: nec saevam Pelopis domum: “nem a cruel casa de Pélops”), poeta mencionado no início como digno de celebrar os feitos de Agripa, Horácio propõe cantar duas espécies líricas: a simpótica, ao mencionar os “banquetes” (v.17: convivia), e a erótica, ao falar das “lutas das acerbas virgens, com unhas aparadas, contra jovens” (vv.17-18: proelia virginum / sectis in iuvenes unguibus acrium). A contraposição parece ser enfatizada no poema seguinte, Odes 1.7, ao referir o “poema perpétuo” (vv.5-6: sunt quibus unum opus est intactae Palladis urbem / carmine perpetuo celebrare), praticado por alguns (quibus), mas de certo não por ele, Horácio, que acabara de recusar o elevado em favor do menor.
Essa oposição entre a grandiosa poesia que canta a guerra e a diminuta lírica imbele (Odes 1.6.10: imbellisque lyrae), tópica de origem calimaquiana, é retomada na conclusão do quarto livro das Odes (4.15), publicado separadamente, quando o poeta tinha vontade de cantar “batalhas” (v.1: proelia) e “vencidas cidades” (v.2: victas … urbis); apareceu-lhe Apolo, deus da poesia, e o repreendeu com a lira (v.2: increpuit lyra): que não lançasse suas pequenas velas ao mar Tirreno (vv.3-4: ne parva Tyrrhenum per aequor / vela darem). Ainda em outro momento – insistamos um pouco mais sobre esse ponto – o poeta opõe o grande ao pequeno com menção à lira. Ao fim de Odes 3.3.69-72, depois do longo discurso de Juno no concílio dos deuses (vv.17-18: elocuta consiliantibus / Iunone divis), que trata de sua perseguição à Troia/Roma, o poeta afirma que tal discurso não convém à jocosa lira (v.69: non hoc iocosae conveniet lyrae). Conclui com alocução à musa (vv.70-72):
quo, musa, tendis? Desine pervicax
referre sermones deorum et
magna modis tenuare parvis.
Para onde, musa, tu te voltas? Deixa, pertinaz,
de narrar os discursos de deuses e
atenuar grandes assuntos em pequenos metros
A inadequação entre a grandiosidade da matéria épica (magna), no extenso discurso da deusa (sermones deorum), e o diminuto dos metros líricios (parvis), na estrofe alcaica aqui utilizada, é ressaltada pela disposição dos adjetivos nas extremidades do último verso e o uso do verbo tenuare (“atenuar”, “tornar pequeno, tênue”). Se em Odes 1.6.10 a lírica é caracterizada negativamente como “não guerreira” (imbellis), em Odes 3.3.69 ela é adjetivada positivamente como “jocosa”, aspecto importante da poesia horaciana, que não será tratado neste texto.
Vejamos mais um exemplo para que tenhamos um de cada livro, antes de avançarmos: em Odes 2.12, dirigindo-se a Mecenas (v.11: Maecenas, melius ductaque per vias) – endereçamento sempre muito importante na lírica de Horácio –, o poeta menciona novamente a matéria bélica (v.1: “as longas guerras da feroz Numância”: longa ferae bella Numantiae), que Mecenas não desejaria ver adaptada aos suaves metros da cítara (vv.3-4: mollibus / aptari citharae modis). Embora aqui haja, como anteriormente, inadequação entre “as longas guerras” ou o “duro Aníbal” (v.2: durum Hannibalem) e os “suaves metros” da lírica, observamos uma pequena – mas importante – mudança dessa oposição em confronto com aquela colocada no final de Odes 3.3.72, em que os metros são qualificados como pequenos, breves (parvis). No lugar da brevidade, temos suavidade (mollibus), que certamente é usada em contraposição ao adjetivo “duro” que caracteriza Aníbal. A mudança, como veremos, parece indicar certa elevação em confronto com “pedestre”, usado mais abaixo para caracterizar o gênero historiográfico, praticado por Mecenas, em que convém celebrar as batalhas de César (vv.9-10: tuque pedestribus / dices historiis proelia Caesaris). Assim, a guerra, matéria tanto da elevada épica como da humilde historiografia, não se adequa bem à suavidade da lírica, que parece agora caracterizada como mediana, entre esses extremos.
Ora, parece muito adequado que isso ocorra justamente no segundo livro, situado exatamente entre dois extremos. A primeira recolha lírica, que encerra os três primeiros livros, tem seu centro com Odes 2, um conjunto que se caracteriza pela mediania, quando comparado aos outros dois. Assim, se o primeiro livro tem 38 odes e o último é composto por 30, o segundo encerra 20 poemas; se o primeiro livro apresenta no início variação contínua de metros (Odes 1-9) e o terceiro começa sem variação (Odes 1-6), o segundo se inicia por um meio termo entre a variação contínua e a não variação: a alternância de estrofes alcaicas e sáficas (Odes 1-11); alternância que se encerra justamente com Odes 2.12, em que se dirige a Mecenas, e situa a lírica entre a elevação épica e a humildade da prosa historiográfica.
Não é casual também, assim julgamos, que na exata metade desse comedido segundo livro (Odes 2.10) – portanto, no centro do centro – tenhamos a célebre expressão aurea mediocritas (v.5: auream quisquis mediocritatem), com que recomenda a moderação a Licínio, que, segundo alguns, é o cunhado de Mecenas. Parte da crítica pensou aqui na presença da filosofia peripatética, com o meio termo aristotélico (mesótês), a virtude colocada entre dois extremos viciosos: um por excesso e outro por falta (Ética a Nicômaco, 1106a-1107a). Parece, porém, que se trata mais de exortação genérica como o preceito délfico: “nada em excesso” (mêdén ágan). Em tempos nada moderados, leiamos esse poema, que já teve grande fortuna:
Rectius vives, Licini, neque altum
semper urgendo neque, dum procellas
cautus horrescis, nimium premendo
litus iniquum.
Auream quisquis mediocritatem5
diligit, tutus caret obsoleti
sordibus tecti, caret invidenda
sobrius aula.
Saepius ventis agitatur ingens
pinus et celsae graviore casu10
decidunt turres feriuntque summos
fulgura montis.
Sperat infestis, metuit secundis
alteram sortem bene praeparatum
pectus. Informis hiemes reducit 15
Iuppiter, idem
summovet. Non, si male nunc, et olim
sic erit: quondam cithara tacentem
suscitat Musam neque semper arcum
tendit Apollo. 20
Rebus angustis animosus atque
fortis appare; sapienter idem
contrahes vento nimium secundo
turgida vela.
Licínio, viverás de modo mais correto,
não afrontando sempre o mar alto nem, cauto,
ao temer tempestades, raspando em excesso
o iníquo litoral.
Todo aquele que a áurea mediania amar, 5
seguro, evitará as misérias de um teto
deteriorado; sóbrio, evitará palácio
para ser invejado.
Com mais frequência pelos ventos é agitado
pinheiro enorme, e torres elevadas tombam 10
com queda mais pesada, e as montanhas mais altas
os relâmpagos ferem.
Tem esperança na desgraça, na bonança
teme diversa sorte o bem disposto peito.
Os disformes invernos Júpiter nos traz, 15
ele mesmo os remove.
Se agora a situação mal está, não será
assim um dia; por vezes a calada Musa
Apolo acorda com a cítara, nem sempre
mantém o arco entesado. 20
Mostra-te corajoso e forte nos apertos;
do mesmo modo, quando o vento favorável
em excesso estiver, vais sabiamente as velas
túrgidas recolher.
Contudo, ao fim do segundo livro (Odes 2.20), o poeta sugere elevação, que virá com o ciclo das chamadas Odes Romanas (3.1-6), onde se encontram os mais longos poemas líricos, todos em estrofes sáficas como o último poema de Odes 2. Horácio, em sua conclusão, novamente dirigindo-se a Mecenas (v.7: dilecte Maecenas), narra sua metamorfose em “ave branca” (v.10: … et album mutor in alitem), muito provavelmente um cisne, que faz seu último canto, o de despedida do segundo livro, profetizando a perenidade de seus versos e dele mesmo, como faz o Sócrates platônico no Fédon (85a), que no momento de sua morte se considera companheiro dos cisnes, ave consagrada a Apolo, compartilhando assim o dom da profecia, ou como a profetisa Cassandra do Agamêmnon de Ésquilo (vv.1444-1445), descrita por Clitemnestra como cisne, que, morrendo, cantou seu último lamento. Como vimos, a identificação com a “ave branca” tem longa tradição, mas aqui nos interessa, sobretudo, como a metamorfose em cisne do poeta/profeta (v.3: vates) aponta para o sublime com que se inicia o próximo livro: “odeio o vulgo profano e me afasto dele” (Odes 3.1.1: odi profanum volgus et arceo). Para tanto, leiamos as duas estrofes introdutórias deste último canto (Odes 2.20.1-8):
Non usitata nec tenui ferar
pinna biformis per liquidum aethera
vates, neque in terris morabor
longius inuidiaque maior
urbis relinquam. Non ego, pauperum 5
sanguis parentum, non ego, quem uocas,
dilecte Maecenas, obibo,
nec Stygia cohibebor unda.
Não por usual nem pequena pena serei
levado, vate biforme, pelo líquido éter,
nem me demorarei mais na terra,
e, maior que a inveja,
abandonarei as cidades. Eu, sangue 5
de pobres pais, eu, a quem convocas,
amado Mecenas, não morrerei, não,
nem serei retido pela água estígia.
O adjetivo inicial tenuis já foi usado, como vimos acima, em Odes 1.6.9 para caracterizar o poeta, que, pequeno, não tenta cantar o grande (vv.5 e 9: nos, Agrippa, neque haec dicere … / conamur, tenues grandia: “nós, Agripa, pequenos, não tentamos cantar estes grandes assuntos”). Portanto, agora, no fim do segundo livro, na metamorfose em cisne, o poeta propõe certa elevação ao negar a pequenez das asas com que alça voo maior (v.1: non usitata nec tenui ferar / pinna: “não por usual nem pequena pena serei levado”), não se demorando mais na terra (vv.3-4: neque in terris morabor / longius), imagem que se contrapõe à conclusão do primeiro livro (Odes 1.38), em que o vemos bem ligado à terra, “sob a espessa videira” (vv.7-8: sub arta / vite), “bebendo” (v.8: bibentem), gesto característico de muitas odes, que nos exortam a tomar vinho. Esse vate transformado, de dupla natureza (v.2: biformis) – longa discussão sobre o adjetivo, com interpretações, por vezes, muito divergentes – abandonará a terra (centro) e não será retido pela água do rio infernal (submundo), o Estige (v.8: Stygia unda: “estígia água”), não será esquecido, mas sobreviverá, voando, pelo líquido ar (acima do mundo). Maior do que a inveja, em alusão a Calímaco – para ficar com um exemplo, veja Hino a Apolo, vv.105-113 –, o poeta de origem humilde (vv.5-6: pauperum / sanguis parentum: “sangue de pobres pais”) torna-se poderoso, como dirá também no fim do terceiro livro (Odes 3.30.12: ex humili potens). Como no epitáfio de Ênio (veja nosso primeiro texto no Estado da Arte), imitado aqui, o poeta não morrerá, pois voará vivo pela boca dos homens.
Transformado, então, em cisne, que é levado por inusitadas plumas, o vate se apresenta no início do livro seguinte como “sacerdote das Musas” (Odes 3.1.3: Musarum sacerdos) que canta canções inauditas (vv.2-3: carmina non prius / audita). Assim, em dois dos seis poemas do ciclo das Odes Romanas começa o poeta das alturas do céu: em Odes 3.4, a mais longa de todas, Horácio invoca Calíope deste modo (vv.1-4):
Descende caelo et dic age tibia
regina longum Calliope melos,
seu voce nunc mavis acuta,
seu fidibus citharave Phoebi.
Desce do céu e canta, vamos, com a tíbia,
rainha Calíope, uma longa canção,
ou, se agora preferires, com voz aguda,
ou com a lira ou a cítara de Febo;
na subsequente, em Odes 3.5, novamente no céu, vemos Júpiter a governar com seus raios, assim como o divino Augusto reinará na terra (vv. 1-4):
Caelo tonantem credidimus Iovem
regnare: praesens divus habebitur
Augustus adiectis Britannis
imperio gravibusque Persis.
No céu Júpiter reina trovejante,
cremos; na terra, Augusto será tido
um deus, anexados os britanos
e os fortes persas ao império.
Não nos parece casual ainda que em Odes 3.3 – não nos primeiros versos, mas também no começo (v.6) – vejamos a “poderosa mão do fulminante Júpiter” (fulminantis magna manus Iovis) que não perturbará o “homem justo e tenaz em seu propósito” (v.1: iustum et tenacem propositi virum). Esse voo nas alturas, iniciado ao fim do segundo livro, continua pelo ciclo das Odes Romanas, preparação para o coroamento do terceiro livro, em que definitivamente o poeta atinge os astros, quando a musa Melpômene cinge os cabelos dele com louro délfico (Odes 3.30.15-16: et mihi Delphica / lauro cinge volens, Melpomene, comam) por ter construído um monumento poético mais perene que o bronze, mais elevado que a régia construção das pirâmides (vv.1-2: exegi monumentum aere perennius / regalique situ pyramidum altius).
A diminuta e laboriosa abelha: imagem da poética horaciana
É, porém, na segunda recolha lírica (Odes 4), caracterizada em geral como pindárica e elevada, que Horácio se compara à pequena abelha, em contraposição ao “cisne de Dirce” (Odes 4.2.25: Dircaeum … cycnum), Píndaro. A ave em que tinha se transformado – não com que tinha se comparado – agora é o próprio poeta grego; o latino, por sua vez, se compara à abelha de Matino, monte provavelmente na Apúlia (vv. 27-28: ego apis Matinae / more modoque). À elevação do poeta-cisne tebano – Dirce é fonte em Tebas – contrapõe-se o diminuto do minucioso trabalho de Horácio (vv.31-32: operosa parvus / carmina fingo), que compõe seus carmina à maneira do inseto voador da Apúlia, região onde nasceu o latino.
Porém, Píndaro, conhecido como o príncipe dos mélicos arcaicos – o termo lírico só surge em época helenística –, não se compara ou se identifica com o cisne, mas com a águia, ave sagrada de Zeus, contra quem grasnam em vão os corvos (Olímpica 2.87-89); compara-se ainda com este pássaro que realiza altíssimo voo (Nemeias 5.20-21). Por outro lado, a pequena abelha, com que se compara Horácio, é frequente nos epinícios de Píndaro – poemas em louvor ao vencedor de uma competição atlética: em Nemeias 3.76-78, o canto é identificado com o mel misturado com branco leite; em Olímpicas 10.97-99, aparece apenas o mel; por fim, em Ístmicas 5.53-54, temos novamente o produto das abelhas. Contudo, para a imagem horaciana, parece ser mais significativa, como já apontaram alguns críticos, a descrição em Píticas 10.53-54, em que o poeta, ao compor seus poemas de louvor, se compara a uma abelha que vai de flor em flor. Por fim, lembremos que na vida de Píndaro – vejam nosso primeiro texto da série – há o relato de que as abelhas, quando ele era menino, pousaram sobre seus lábios e construíram favos de mel enquanto dormia.
Píndaro: modelo das Odes de Horácio
Ora, também se dizia o mesmo de Platão: as abelhas pousaram em seus lábios, ainda recém-nascido. Não à toa, no Íon (534a-b), há novamente a associação entre os poetas entusiasmados e as abelhas: “Assim como os coribantes não dançam freneticamente estando em seu juízo, assim também os mélicos [melopoiói] não fazem aquelas belas melodias [mélê] estando em seu juízo, mas, quando eles embarcam na harmonia e no ritmo, eles se tornam bacantes e possuídos; como as bacantes retiram dos rios mel [méli] e leite quando estão possuídas, mas não estando em seu juízo, também a alma dos mélicos [melopoiôn] trabalha assim, como eles mesmos dizem. Pois os poetas nos dizem – não é? – colhendo de fontes de mel corrente [melirrýtôn] de certos jardins e vales das Musas, eles nos trazem as melodias [mélê]; como as abelhas [mélittai], também eles assim voam. E dizem a verdade. Pois coisa leve é o poeta, e alada e sacra, e incapaz de fazer poemas antes que se tenha tornado entusiasmado e ficado fora de seu juízo e o senso não esteja mais nele” (tradução de Cláudio Oliveira com modificações para ressaltar a relação do original entre os mélicos com suas melodias e as abelhas – mélittai – com seu mel).
Horácio, porém, reverte as imagens pindárica e platônica para emulação: assim toma a identificação desses dois autores que tiveram em seus lábios o mel das abelhas. Se Píndaro se compara às abelhas, Horácio toma para si a comparação, identificando o mélico com o cisne, com quem diz ser impossível rivalizar (Odes 4.2.1-4); se o Sócrates platônico compara os mélicos, poetas entusiasmados, com as abelhas, Horácio, ao se comparar com esses pequenos insetos voadores, propõe forjar “canções laboriosas” (vv.31-32: operosa parvus / carmina fingo), ou seja, mais do que a poética da inspiração há aqui a poética do labor limae, o trabalho técnico, negado no diálogo platônico. Portanto, mais uma vez, o poeta latino se volta à doutrina calimaquiana e neotérica do diminuto (parvus) e do labor da lima, defendida na Arte Poética (v.291). Também Calímaco se vale, como bem se sabe, da imagem da abelha que leva água límpida para caracterizar sua poética (Hino a Apolo 2.110-112), em contraposição ao grande rio da Assíria que carrega consigo muita sujeira.
Fechemos esse pequeno sobrevoo pelas Odes de Horácio – voltaremos em breve a elas – com o início de Odes 4.2.1-4, já mencionado por nós, em que o poeta, dirigindo-se ao épico Julo Antônio, diz que quem se esforça por emular Píndaro (v.1: Pindarum quisquis studet aemulari) – admirado por Hölderlin, Ronsard e d’Annunzio – será como Ícaro e “dará nome ao cristalino mar” (vv.3-4: vitreo daturus / nomina ponto). Assim, a tentativa de um voo às alturas leva à queda até as profundezas. Mas, o audaz poeta latino, que já imitou Píndaro em Odes 1.12, tomando o início de Olímpicas 2.1-2, mais uma vez, em um trabalho minucioso, como o da pequena abelha, depois de trazer o nome do poeta em primeira posição, faz com que surja em anagrama na sequência (v.3), como observou o linguista francês Antoine Meillet, escrevendo a Saussure. Fiquemos, enfim, com esse célebre passo (Odes 4.2.1-4), em que evidenciamos o anagrama:
Pindarum quisquis studet aemulari,
Iulle, ceratis ope Daedalea
Nititur PINnis, vitreo DAtuRUS
Nomina ponto.
Para saber mais:
A bibliografia sobre as Odes é vastíssima. Vamos referir, primeiramente, os principais comentários: R.G.M. Nisbet é um dos principais nomes para o estudo da lírica horaciana, que, conjuntamente com Margaret Hubbard, fez comentário aos dois primeiros livros, A commentary on Horace: Odes, Book I, Oxford (1970) e A commentary on Horace: Odes, Book 2, Oxford (1978); muito tempo depois, em parceria agora com Niall Rudd, publicou o comentário ao terceiro: A commentary on Horace: Odes, Book 3. Oxford (2004). A falta do comentário ao quarto livro foi preenchida por Paolo Fedeli e Irma Ciccarelli que produziram volumosa obra, Q. Horatii Flacci Carmina Liber IV, Firenze (2008). Menos densos, mas muito úteis e mais recentes, são os comentários da coleção green-and-yellow, Cambridge Greek and Latin Classics: para Odes 1, o de Roland Mayer, Horace: Odes, Book I, Cambridge (2012); para Odes 2, o recentíssimo de Stephen Harrison, Horace: Odes, Book II, Cambridge (2017); para Odes 4 e Carmen Saeculare, o de Richard Thomas, Horace: Odes Book IV and Carmen Saeculare, Cambridge (2011). Não se tem notícia ainda do comentário ao terceiro livro. Vale a pena ainda destacar o comentário italiano de Elisa Romano, Q. Orazio Flacco: Le Opere I: Le Odi, Il Carme Secolare, Gli Epodi, tomo secondo, Roma (1991); o alemão de Adolf Kiessling, Q. Horatius Flaccus: Oden und Epoden (I), Berlin (várias datas), reeditado por Richard Heinze. Destacamos na sequência alguns dos estudos já clássicos: embora não exclusivamente sobre as Odes, o livro de Eduard Fraenkel, Horace, Oxford (1957), o discípulo de Wilamowitz-Moellendorff; a monumental obra de Giorgio Pasquali, Orazio lirico, Firenze (1920), em que se desenvolve a relação entre Horácio lírico e a poesia helenística, até então deixada um pouco de lado, pois os estudos privilegiavam a relação com a poesia mélica arcaica: Alceu, Safo e Píndaro; ainda útil o livro de Steele Commager, The Odes of Horace. A Critical Study, New Haven-London (1962); importante obra de Alberto Cavarzere sobre a técnica do motto inicial, Sul limitare. Il “Motto” e la poesia di Orazio, Bologna (1996); o utilíssimo livro de Alessandra Minarini sobre a organização dos três primeiros livros das Odes, em que passa em revista os estudos desde o séc. XIX, Lucidus Ordo. L’architettura della lírica oraziana (libri I-III), Bologna (1989); para o mesmo assunto, organização dos poemas em livro, sempre se mencionam Matthew Santirocco, Unity and Design in Horace’s Odes, Chapel Hill (1986) e David Porter, Horace’s Poetic Journey. A Reading of Odes 1-3, New Jersey (1987); sobre o quarto livro das Odes, Michael Putnam fez ótimo estudo em Artifices of Eternity: Horace’s Fourth Book of Odes, Ithaca-London (1986); em português, um estudo sobre o lugar-comum na lírica horaciana, o livro de Francisco Achcar, Lírica e Lugar-Comum. Alguns Temas de Horácio e sua Presença em Português, São Paulo (1994). São muitos os artigos sobre as Odes; entre os mais citados estão aqueles reunidos em Horace: Odes and Epodes, Oxford (2009), editado por Michèle Lowrie, autora também de Horace’s Narrative Odes, Oxford (1997). Entre as contribuições que fizemos, destacamos a última: Alexandre P. Hasegawa, “Mercúrio rouba a voz e o lugar de Apolo no carm. 1.10 de Horácio”, Phaos 17 (2017), pp.83-100, disponível on-line. Nos últimos anos, houve crescente interesse pelas Odes, que gerou algumas teses, entre as quais mencionamos: Alexandre Piccolo (in memoriam), O Arco e a Lira. Modulações da épica homérica nas Odes de Horácio, Unicamp/Campinas (2015), sobre as relações intertextuais entre Horácio e Homero; Guilherme Gontijo Flores, Uma poesia de mosaicos nas Odes de Horácio: comentário e tradução poética, USP/São Paulo (2014), principalmente sobre a organização dos livros e tradução poética; Lya Valeria Serignolli, Baco, o simpósio e o poeta, USP/São Paulo (2017), sobre a representação de Baco, sobretudo nas Odes de Horácio.
ODES ROMANAS
Heloísa Penna
http://www.letras.ufmg.br/padrao_cms/documentos/eventos/vivavoz/Odes%20Romanas_interativo.pdf
Apresentação
Selecionamos para essa edição do Viva Voz a tradução de seis poemas do poeta latino, do século I a.C., Quinto Horácio Flaco. O trabalho foi realizado durante a disciplina Estudos Temáticos de Língua e Literatura Latina: Lendas de Origem do Povo Romano, ministrada por mim, e teve a participação dos seguintes alunos: Ana Flávia Pereira Basileu, André Luiz Arcanjo Leite da Silva, André Pires Guerra Aguiar, Felipe Coelho de Souza Ladeira, Fernanda Carla de Oliveira, Marcelo Rocha Brugger e Yasmin Schiess Miranda. Anexo à tradução encontra-se um CD com recitação e canto de duas das odes do grupo selecionado, a III, 1 e a III, 5. Essas duas odes estão metrificadas, na Coleção Viva Voz, para possibilitar o acompanhamento da gravação (CD em anexo) feita pela professora e alunos que recitaram e cantaram buscando observar, no sistema métrico latino, as sequências das sílabas longas e breves, bem como os movimentos ascendentes e descendentes, ditados pelo ictus métrico da estrofe alcaica. Essa produção dá continuidade a meu estudo, desenvolvido no doutorado,1 sobre a métrica na obra lírica de Horácio. Também é parte do projeto de pesquisa2 sobre o tratamento dos mitos nas odes III, 1-6, que desenvolvo na Faculdade de Letras. 1 PENNA. Implicações da Métrica nas Odes de Horácio. 2 Projeto de Pesquisa do triênio 2012-2015, intitulado Mitologia e Literatura: análise das odes III, 1-6 de Horácio.
1 PENNA. Implicações da Métrica nas Odes de Horácio.
2 Projeto de Pesquisa do triênio 2012-2015, intitulado Mitologia e Literatura: análise das odes III, 1-6 de Horácio.
SOBRE AS "ODES ROMANAS"
As “Odes Romanas”1 são um grupo de seis odes solenes que iniciam o livro III, do poeta augustano Quinto Horácio Flaco. Foram todas compostas na medida lírica da estrofe alcaica e partilham um tema comum: “a restauração, em Roma, dos antigos costumes”.2 Essas odes de temática cívica têm endereço certo – a juventude romana (uirginibus puerisque canto); remetente capaz de alertar sobre os perigos advindos da grandeza do Império – o consagrado das musas (Sacerdos Musarum); e mensagem convincente e inovadora – poemas nunca antes ouvidos (carmina non prius audita). O contexto em que foram escritas pedia, de fato, tal produção: com o advento do principado, “Augusto necessitava orientar o povo e cativar sua simpatia para as reformas a empreender”.3 Esse grande cantar dos costumes romanos (carmen de moribus, com 336 versos) nos diz muito sobre o ethos do poeta Horácio, um dos mais fiéis membros do Círculo Literário de Mecenas e sujeito consciente do poder da poesia de imortalizar os feitos e os homens. Ele, de fato, construiu um monumento perene4 quando deixou o estilo tenuis dos líricos mais leves (cf. ode I, 6, 9), tornando-se um “biformis uates (II, 20, 2-3) no sentido também de poder adicionar grandes temas a seus habituais mais leves”.5 Certamente, era intenção desse vate de, ao lado de Virgílio, apoiar o principado e cantar a glorificação da cidade pela predestinação divina. No entanto, fazia-se urgente “acertar o passo” com a moralização dos costumes, a volta aos antigos valores (Mos Maiorum) e a busca da Pietas (respeito aos deuses, à família e à pátria).
1 Fraenkel (1959, p. 260) noticia que, em 1882, esse termo já fora empregado por um escritor alemão de nome Plüss e que, em 1884, Verral registrou em seus Studies in the Odes of Horace o nome de Odes Romanas.
2 In Horace, 1917, p. 114.
3 DOURADO. Mecenas ou o suborno da inteligência, p. 175.
4 Exegui monumentum aere perennius... (III, 30, 1). Sobre as “Odes Romanas” 8 Odes Romanas
(Prossegue a narrativa)
Nomes femininos da Roma Antiga
Os nomes femininos mais bonitos da Roma Antiga para dar a uma menina: significado e origem do nome, do mais comum ao mais particular.
A escolha por um nome feminino italiano abre um leque de diversas opções. Uma dessas opções diz respeito a um período da história muito marcante. A Roma Antiga diz respeito à nossa Civilização Ocidental, é onde estão as raízes culturais da Itália e de muitos outros países.
Ainda hoje, a importância dos romanos na construção da civilização moderna é estudada em livros e levar o nome de uma mulher da Roma Antiga é inusitado e ao mesmo tempo cheio de significado.
Dado que cada nome tem suas raízes e sua importância, se você estiver procurando por um nome italiano feminino incomum, inspirando-se na Roma Antiga você terá muitas opções.
Nomes romanos femininos atuais
Veja a seguir uma série de nomes italianos femininos originários da Roma Antiga que ainda são atuais e fáceis de usar.
• Camilla: deriva de camillus, o mensageiro de Deus, que é aquele que cuidava das cerimônias;
• Claudia: mesmo que a raiz seja claudicante, ou seja, coxo, é no entanto um nome que fez história, começando com o imperador Claudius Tiberio • Drusus Nero Germanico, conhecido apenas como Nero;
• Cecília: tem origem no latim caecus, que significa cego, mas Santa Cecília também é a padroeira dos músicos;
• Emilia: em latim significa rival, mas também graciosa;
• Fabia: deriva do nome da fava e, portanto, é ela quem as cultiva;
• Gaia: significa vivaz, alegre;
• Lívia: parece significar "estar pálida ou machucada", de livius;
• Marzia: nome dedicado a Marte, deus da guerra;
• Sabina: que vem de Sabina, um território perto de Roma;
• Serena: significa calma, pacífica;
• Valéria: sua origem significa aquela que está bem;
• Vera: o significado da palavra é "verdade";
• Virgínia: está ligada à palavra virgem, ou seja, menina pronta para o casamento.
Nomes femininos de mulheres famosas na Roma Antiga
• Aurélia, mãe de Caio Júlio César;
• Agripina, segunda esposa do imperador Cláudio e mãe de Nero;
• Cornelia, a primeira esposa de Júlio César;
• Pompeia, a segunda esposa de Júlio César;
• Calpurnia, em terceira esposa de Júlio César;
• Ácia, a mãe do primeiro Roman imperador Augustus;
• Vipsania, primeira esposa de Tibério;
• Alfidia, filha do magistrado Marco Aufidio Lurcone;
• Múcia, em esposa de Pompeu;
• Fúlvia (esposa de Marco António) (a primeira mulher cujo rosto apareceu em moedas romanas);
• Escribônia, uma segunda esposa de Augusto;
• Giulia, irmã de Calígula;
• Drusilla, irmã de Calígula.
Nomes italianos de meninas da Roma Antiga, atualmente pouco usuais
• Albina: deriva de uma determinada cor de pele e cabelo, assim como a palavra usada hoje;
• Clélia: significa ter fama, ser reconhecida;
• Dacia: liga a uma famosa província romana, a Dacia Aureliana;
• Drusila: talvez sua raiz, celta, signifique forte, e na Roma Antiga ela era filha de Germânico e Agripina, irmã de Calígula;
• Felicia: deriva de felix, primeiro fértil e fecundo e depois feliz;
• Filomena: vem para Roma do grego, onde significa "rouxinol", portanto "ela que ama cantar";
• Leonia: refere-se ao orgulho, coragem e nobreza;
• Lucila: deriva de luz, esplendor e, portanto, significa brilhante, luminoso, esplêndido;
• Mirta: deriva da planta murta, sagrada para Vênus e, portanto, símbolo do amor;
• Ofélia: de origem grega, também se espalhou pela Roma Antiga e depois ficou famosa por Hamlet de Shakespeare;
• Octavia: nome muito comum na era republicana;
• Placidia: deriva de placidus que significa doce, manso;
• Priscilla: existe o adjetivo latino priscus, que significa o mais antigo;
• Tosca: habitante da Etrúria, portanto da Toscana;
• Tullia: o nome lembra Tullo Ostilio, terceiro rei de Roma;
• Ursula: vem do substantivo latino ursus, que significa urso;
•Velia: provavelmente leva o nome de uma antiga cidade lucaniana.




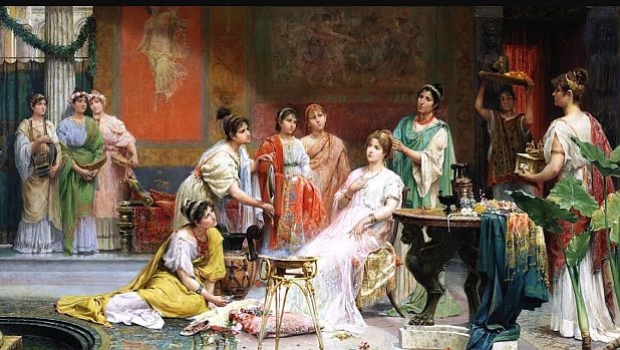

Nenhum comentário:
Postar um comentário